


As Sereias Só Choram Uma Vez
O quadro é uma chuva de cores invernosas e fragmentadas, como se alguém tivesse recolhido os tons de uma aurora gelada e os fixasse a uma tela, mas em seguida rasgasse essa tela, juntasse os pedacinhos ao acaso e posto uma nuvem à frente. Tem uma quantidade insidiosa de branco-pérola ao centro, sol albino de cabelos prateados que se estendem para a margem esquerda e abaixo, aninhada entre uma espiral bege e uma língua de tinta azulada, uma única pinta vermelha.
No dia em que Margot fez quinze anos, passámos a manhã na praia e a tarde enroladas nas toalhas, dando palpites sobre qual seria o título do quadro. Claire, dois anos mais velha, insistia que tinha de ser “À Procura do Rubi” porque era difícil achar aquele ponto preciso, mas eu via a pinta como uma prisioneira que queria escapar e propunha “A Essência do Desejo”. Margot não contribuiu com títulos mas ria-se dos nossos; presença frequente na minha casa, quando eu a encontrava com ar terrivelmente melancólico e perguntava porquê, a resposta era um invariável “nada”, e mesmo quando lhe apanhava um sorriso doce e olhar ausente, de imediato o ar solene e “nada”.
Um ano depois, Claire fugiu com um marinheiro de quem se enamorara há vários meses. A minha tia ficou furiosa e não voltou a mencionar o seu nome ou a reconhecer a sua existência. Margot nunca proferiu uma palavra sobre o assunto, se bem que tivesse corrido a minha casa com a primeira carta de Claire nas mãos, treze semanas depois. Não havia como pegar nela sem saber que tinha sido escrita perto do mar. A ilha em que morava era exaustivamente descrita; Claire fazia tenções de aí erguer um lar e uma comunidade. Falava também do amor que nos tinha e da certeza do caminho que escolhera. Notámos que havia borrões espalhados ao longo da carta e um bem grande na despedida: “amo-vos”. Margot não podia guardar a carta em casa por isso aqui ficou, entre a tela do quadro e a moldura.
O quadro tem uma bela moldura: madeira maciça escura, trabalhada em arabescos com pequenas folhas e anéis intercalados. Está intacta, exceptuando no seu canto inferior direito, que desapareceu.
Aconteceu quando tinha vinte e quatro anos e Margot dezanove, no período em que ainda não desconfiava da minha gravidez. A minha mãe, que comprara outra casa e nos deixara esta a mim e ao meu marido Eustache, apareceu num remoinho de energia; foi aí que ouvi falar no naufrágio: trinta e duas vidas a bordo de uma pequena embarcação de recreio que se despenhara contra uma falésia na viagem de regresso. Alguns passageiros eram dos nossos, embora habitassem na parte rica da cidade e nós ao pé das docas. A minha mãe inclinou-se ao meu ouvido e acrescentou “Margot não está bem, já desmaiou duas vezes, vou buscá-la” e em menos de dez minutos eu preparava chá e biscoitos para a minha prima que se sentara numa das cadeiras, costas muito direitas, joelhos e pés juntos; só as mãos colocadas no colo a traiam, lívidas da força com que se apertavam. Dispunha os bolos num pratinho quando ouvi um grito que me deslocou a espinha do corpo, seguido de um baque áspero que ecoou pelo chão da casa. A minha mãe tinha ido saber novidades e Eustache saíra cedo para o trabalho; não tive outro remédio senão acudir a Margot eu mesma, e lá estava, entendi enquanto a segurava nos braços, a origem daquele baque: fora o quadro que ela arremessara. Um pouco afastada, a carta de Claire jazia no chão. Margot tremia e murmurava repetidamente qualquer coisa sem emitir um som. Quando se acalmou, sem que notasse, arrumei a carta, peguei no quadro e voltei a pregá-lo à parede. Sabia por que razão a minha prima precisava da irmã, mas nunca soube quem era o homem por quem sofria.
O funeral decorreu cinco dias depois com metade dos corpos e a outra metade por encontrar. Todas ficámos de luto, mas eu não teria comparecido às cerimónias se Margot não me tivesse pedido. Na altura em que as pessoas se juntavam para iniciar as primeiras homenagens, senti uma mão tocar-me no ombro; virei-me e lá estava Claire, talvez não a Claire de que me recordava, pois esta estava intensamente bronzeada e vestia roupas de excelente qualidade. Contou-nos que o seu marinheiro se tornara capitão de um navio e eram actualmente “empreendedores de negócios”, com a ilha onde vivia a funcionar como sua base de operações; Claire vinha ao funeral porque um dos seus clientes mais importantes fazia parte da lista de vítimas. Apressei-me a dar espaço às irmãs, pois sabia a importância do reencontro para ambas. Ao retornarmos a casa, vi pelo canto do olho que Claire abraçava Margot com força e que esta chorava; Claire afagou-lhe a mão enquanto andavam, falando baixinho.
A minha prima não demorou a ir-se embora, mas não sem antes sugerir a Margot que viesse com ela, o que a sua irmã recusou. “Esse caminho que tu escolheste? Não é o meu”, ouvia-a dizer, e lá partiu Claire, uma visão gloriosa em vermelho e dourado com uma horda de marinheiros a cumprir as suas ordens enquanto o navio se fazia ao mar.
Oito meses depois nasceu o meu filho, Luc. Estava tão fraca que teve de vir o físico com uma mezinha para eu o conseguir fazer sair. “Não é normal, uma rapariga jovem ter tantas dificuldades”, notou o físico, e eu sorri porque sabia, porque há já algum tempo que o meu corpo não respondia quando eu queria e os meus pés já mal sentiam o chão.
Quando o meu filho fez um ano, nadei pela última vez.
Margot muda-me a posição da cadeira e prepara-se para dar banho a Luc. Deixo de conseguir ver o quadro para ter o mar perante os meus olhos. Sei que uma lágrima me desliza pela cara, sinto-a a molhar-me a pele.
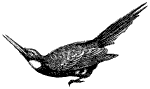
A Linguagem das Flores
Começava o dia por entre tons azuis e rosa pálido - obra de arte pintada por algum Deus que adorna continuamente a sua cúpula celeste com infinito saber - quando eu pensava em rosmaninho e na melhor estratégia de combate para derrotar um exército cinco vezes maior que o nosso, mas sobretudo em rosmaninho e no cheiro adocicado que se desprendia das suas folhas e que tanta facilidade tinha em preencher pulmões e fazer o meu olfacto refém. Eu refém.
Recostei-me na cadeira e olhei em redor, suspirando. Encontrara-a antes de chegar aos quartéis, quando percorria o campo durante o meu habitual passeio diário. Ela vestia de amarelo e tinha um cesto de flores na mão – lembro-me que olhava para o céu e sorria, e o seu sorriso era tão luminoso que despertaria o próprio Inverno, não fosse já Primavera e os insectos andassem por todo o lado, embalados pelo vento do Norte que ainda persistia. Ao reparar em mim, retirou do seu cesto um ramo de rosmaninho e os seus dedos tremeram quando tocaram nos meus.
----
Foi ela quem me ensinou a linguagem das flores. Encontrámo-nos mais vezes depois do primeiro dia no campo, em que houve apenas tempo para nos apercebermos de que ambos corávamos e que pouco dizíamos um ao outro, mas que pouco havia para dizer de qualquer maneira. “Sentes o mesmo que eu?”, perguntei um dia estupidamente, ao que ela se agachou e atiçou um pouco mais o fogo com que nos aquecíamos naquela madrugada invulgarmente fria de Verão – uma nuvem de fumo libertou-se sobre nós e foi aí que me apercebi do meu bater do coração e da força dos meus ossos, como ela me traía naquele momento e eles ameaçavam desmoronar-se.
“A paixão é o que há de mais puro em nós”, disse ela. “Na força da nossa juventude, sentimo-la com todo o nosso ser, a bater contra as nossas costelas. Quer sair desta jaula de matéria. E quem a pode culpar? Somos os seus servos; receptáculos de energia pura. Mas temos de a domar, de a conter dentro de nós, e usá-la para sermos fortes, determinados, corajosos. Apaixonados. É o que tu fazes quando combates pelo nosso Rei; é o que eu faço quando vendo flores pelo Reino.”
Ansiava pelo seu toque e pela sua voz; ousava procurá-la pelas manhãs.
Rosmaninho significa “lembrança”.
----
“Penso que carrego uma criança tua no meu ventre”, sussurrou-me ela, e eu levantei-a e rodopiei-a tantas vezes no ar até que me faltou a força nos braços e nós deslizámos no chão suavemente, primeiro os joelhos e depois as cabeças nas folhas recém-caídas do Outono. Ela deixou-se ficar quando eu me levantei para lhe fazer um chá que ela me ensinara ser bom para as mulheres na sua condição.
A nossa casa tinha um pequeno charco nas traseiras, provocado pelas recentes chuvas. Achei que seria excelente para a criança, para ela aprender a saltar e conviver com as pequeninas rãs que se tinham começado a instalar no nosso quintal. Eu assobiava e fazia uma pequena dança de pés enquanto ateava as chamas para aquecer a água.
Não a encontrei no mesmo sítio, mas sim ao pé do charco. Abraçava os joelhos com os braços e estava de cabeça baixa. Toquei-lhe ao de leve no cabelo claro e de imediato vi os seus olhos verdes tingidos por mágoa vermelha e lágrimas escorrendo-lhe pela cara abaixo, tantas que pareciam ir unir-se ao charco. Rejeitei essa ideia rapidamente.
“Que se passa?”
“Um pressentimento… e um desejo. Às vezes faz-nos falta chorar, sabes?”
----
Dizem que a criança que ainda não nasceu é como uma semente enterrada no solo; clama para si toda a vitalidade da Mãe, concentra o alimento e a bebida, rouba carne, sangue e ossos.
Estávamos em casa e eu cortava lenha quando ouvi um grito que me dilacerou o coração. Corri para a origem do som e de imediato a minha visão ficou turva, de verdes e castanhos e vermelhos. Tanto, tanto vermelho.
O sangue dela misturava-se com a areia e com a lama do nosso quintal. Ela estava deitada: soluçava, murmurava palavras incompreensíveis, fechava e abria os olhos repetidamente, como se não tivesse a certeza de como via melhor. Eu baixei-me, e aí reparei numa pequena massa no meio de todo o sangue: o meu filho.
Não havia tempo a perder; eu tinha de ser prático e calmo. “Isto é como se fosse um campo de batalha e um dos teus homens está ferido. O que fazes?”. Fechei os punhos e cravei as unhas na minha pele com toda a força; a dor fez-me recuperar a clareza de pensamento. Levantei-a: ela era leve que nem uma criança e os seus braços penderam para trás. Afastei-lhe os longos cabelos da face e apercebi-me de que todo ele estava cheio de pétalas murchas, tão frágeis que se desfaziam em pó no momento em que acariciavam a terra.
----
O nada dá origem à vida. Num momento, somos pequenas partículas sem consciência e fazemos parte da magia de tudo o que é visível e invisível; noutro, há alguém que nos convoca para existirmos e aparecermos como descendentes de alguém. Matéria dá luz à matéria.
Ela sobreviveu, embora permaneça débil e pálida. Nós pensamos muito no nosso filho, que nunca chegou a ter a oportunidade da vida. Ela diz que ele há-de nascer noutra altura, de novo, talvez não pela nossa mão, mas pela vontade de outro casal apaixonado. Eu espero que assim o seja.
Instituímos um ritual. De doze em doze luas, vamos ao local que era a casa onde iniciámos a nossa vida juntos e oramos, ao pé do charco que agora é um dos maiores lagos do Reino. Os passos da minha mulher são miúdos e eu seguro-lhe a mão, mas sei que ainda há energia nos seus olhos sábios. Uma Sacerdotisa não se deixa abalar tão facilmente. Eu seguro-lhe a mão e ela retira do seu cesto um ramo de flores, depositando-os na margem.
Rosmaninho.
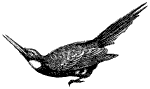
Em Busca do Inatingível
Cathán não estava habituado a acordar e olhar para a mesma paisagem lua após lua. A sua família percorria Erin de lés-a-lés, acampando juntamente com outras famílias de nómadas, numa grande comunidade que mantinha um estilo de vida simples e alegre. Os pais de Cathán gozavam de uma boa reputação no seio da comunidade e o seu irmão estava sempre pronto para uma sessão de anedotas, que não raras vezes terminava num choro colectivo de o público tanto se rir. E ainda havia Lilian, uma rapariga de grandes olhos cor de âmbar, cinco anos mais nova que o rapaz; Lilian, de cabelos escuros parcialmente ocultos por um lenço vermelho que usava diariamente.
Cathán não sabia dizer se era feliz. Tinha consciência do quão sortudo era, mas por outro lado sentia frequentemente que tinha de alcançar qualquer coisa, algo mais. Este sentimento atormentava-o noites e dias a fio; à noite, povoava-lhe os sonhos sob a forma de um par de mãos tentando agarrar uma forma indistinta na escuridão; de dia, tornara-o num ser tímido e calado, pensante.
Finalmente, chegou a altura em que Cathán não aguentou mais a vontade de partir para procurar a resposta à sua ansiedade. Despediu-se dos pais, do irmão, de Lilian e dos restantes nómadas, prometendo voltar. E assim, aos doze anos, Cathán deixou para trás a sua vida e o seu povo; nada mais lhe interessava, a não ser aquele desejo e aquela necessidade que lhe aprisionava o coração.
Vagueou por aldeias e bosques, comeu frutos e carne que caçava e dormiu na erva, ao lado de fogueiras improvisadas. Estava habituado àquelas andanças e àquele modo de vida: afinal de contas, era um nómada.
Certa vez, andava ele sem rumo definido numa floresta, quando encontrou um corvo. O dia estava solarento, sem nenhuma nuvem à vista, e o corvo estava pousado num ramo de uma árvore, aparentemente atento ao mundo em seu redor. Cathán poderia ter passado calmamente por ele sem lhe prestar atenção, se não tivesse ouvido uns resmungos e descoberto, com choque, que era o corvo que falava. Imediatamente o seu coração bateu mais depressa, saltando desde o fundo da barriga até à garganta. Os corvos não costumam falar e, se falassem, esconderiam melhor este seu segredo! Cathán suspeitou que o feito fora propositado.
- Desculpe - disse, aproximando-se do corvo lentamente, que não estava muito acima do seu nível de visão.
- O que foi? - perguntou o corvo com modos grosseiros; não parecia nada surpreendido por ser interpelado.
- Isto pode parecer estranho - disse Cathán, inseguro do que ia dizer - mas eu estou à procura do inatingível. Podes ajudar-me?
O corvo permaneceu quieto durante uns momentos e, por fim, disse:
- Sim, posso ajudar-te. Mas com uma condição: tens de me dar toda a comida que trazes contigo.
- Aceito – disse o jovem imediatamente, desfazendo a trouxa. Em seguida sentou-se e ficou a ver o corvo, que entretanto descera e comia avidamente. Mal acabou, o animal disse-lhe:
- O inatingível para mim é um dia em que não tenha de procurar por comida. O inatingível para ti vou ser eu, pois nunca me irás apanhar! – e fugiu, veloz que nem uma rajada de vento. Cathán ficou estático, de queixo caído. Não foi atrás dele, pois o corvo já devia ir longe; além disso, sabia desenvencilhar-se perfeitamente sem a comida que trazia. Decidiu continuar naquela floresta, esperando encontrar alguém que viesse a mostrar-se verdadeiramente prestável.
A noite chegou, e com ela o sono. Cathán tentou dormir, mas não conseguiu. Desesperado, sentou-se e rodeou os joelhos com os braços. Quem é que ele estava a tentar enganar? Não ia encontrar nada… nada. Perguntava pelo inatingível porque compreendera que era isso que buscava. Mas o inatingível ninguém consegue alcançar… por isso é que era inatingível. Não havia ali nada para ele. E não seria aquilo obra de um espírito maléfico que tinha decidido brincar com a sua mente, fazendo-o ansiar por algo que nem existia? As lágrimas começaram a deslizar-lhe cara abaixo.
- Não chores, rapaz – disse uma voz bondosa, reconfortante. Cathán olhou para cima e viu a figura de um mocho, que voou para ao pé dele – Tu estás aqui por alguma razão. Diz-me, o que é que tu procuras?
Cathán não tinha nada a perder, por isso tentou uma última vez:
- Eu procuro o inatingível. Podes ajudar-me?
O mocho fixou-o e respondeu "Vem comigo", conduzindo o rapaz até um local mais descampado.
- Vês esta clareira? – perguntou o mocho muito solene – Quando os primeiros raios de sol se reflectirem nela, vem aqui e toca na criatura de verde. Ela dar-te-á aquilo que procuras.
- Muito obrigada, mocho! Fico-te eternamente grato… - assentiu Cathán, intrigado mas contente.
O mocho emitiu um pio, como se a sua voz lhe tivesse sido retirada, e desapareceu a voar.
Quando a noite chegou e o sono já tinha levado a melhor, Cathán foi acordado por uma sensação arrepiante que o fez estremecer. Levantou-se com um pulo: a criatura! Olhou para o céu; ainda estava escuro, mas já um raiozinho incidia na clareira. Atabalhoadamente, escondeu-se nuns arbustos. Pressentia que a tarefa não iria ser nada fácil…
Como por magia, surgiu no meio da clareira uma criatura semi-humana que se sentou numa pedra, escondendo a cara com as mãos. Estava muito curvada e Cathán mal via outra coisa para além dos seus cabelos compridos. Se a criatura sentiu ou não a presença de Cathán, não o demonstrou. O certo é que continuou na sua encolhida posição e Cathán, aproximando-se aos poucos e já tão perto que se esticasse o braço conseguiria tocá-la, percebeu com horror que a criatura estava a chorar de modo profundamente sofrido; parecia chorar por todos os seres à face do Universo e por cada ferida, por cada desgosto, por cada desapontamento que eles sofreram ao longo dos tempos. Para Cathán, aquilo não podia ser; tinha de fazer alguma coisa. Ao desviar-lhe os cabelos para lhe ver a cara, Cathán sentiu o coração a comprimir-se com toda a força, alertando a mente para uma única coisa: a criatura era azul, não verde! A mão parou a meio do percurso e a criatura prosseguiu o seu choro, curvando-se ainda mais.
- Ela não é verde – pensou Cathán muito depressa, com as pernas a tremer – mas não a posso deixar assim! O mocho disse para eu tocar na criatura de verde, mas não disse para eu não tocar nas outras…
Pensou, pensou, e por fim decidiu. Tinha de a deixar. O seu objectivo era tocar na criatura de verde, e para tal não podia estar ao pé daquela criatura azul e triste. Correu, correu, correu o dia inteiro, até achar que já não se lembrava com clareza nem da criatura azul nem dos seus olhos. Aí caiu, estafado como nunca estivera, simplesmente cansado: cansado daquela demanda, cansado daquela loucura, cansado de resistir contra uma voz que lhe dizia que devia voltar para casa e acabar com tudo aquilo. Cathán gemeu, porque agora que aquele impulso de adrenalina lhe passara sentia-se moído e, finalmente, acabado. Tinham sido bons tempos, aqueles em que tentara ir à procura do que lhe faltava na sua vida… mas o seu tempo naquela floresta estava a acabar e Cathán sabia-o muito bem. Uma voz murmurava-lhe ao ouvido, deviam ser os primeiros indícios da loucura…
Olá, aquilo não era sua imaginação… estava mesmo uma voz a murmurar-lhe ao ouvido, e era bem real! Pertencia a um tornado que estava mesmo ao seu lado, um tornado muito definido, e bem verde…
Verde! Cathán não precisou de saber mais nada. Quanto o tornado girou uma vez mais e lhe sussurrou "olha, aqui estou eu…" fez o seu derradeiro gesto; tocou-lhe.
De imediato foi sugado para o seu interior, e aí Cathán deleitou-se, porque era tão fácil movimentar-se, tão fácil pensar, como se o ar do tornado lhe tivesse limpo o corpo morto de exaustão e lhe tivesse devolvido o seu antigo potencial. Foi então que o corvo, o mocho e a criatura azul apareceram e, no meio de tudo, uma esguia figura de uma mulher verde avançou e disse para Cathán:
- Cathán – a sua voz era poderosa e imperial, mas também suave e complacente – A tua persistência, gentileza e coragem surpreendeu-nos a todos. Ignoraste a falsidade e o engano e deste ouvidos à sabedoria. Conseguiste afastar-te da tristeza e tocaste na esperança. Tu atingiste o inatingível e tens agora, finalmente, todo o direito de saber o que te falta na vida.
Sons, luzes, e vento, tanto vento… Cathán abriu os olhos, sem poder esperar para ver, finalmente, o que a visão lhe reservaria. O que viu fê-lo gritar; era o seu antigo acampamento, as tendas, as carroças e as fogueiras tal e qual como se lembrava quando as abandonara há tanto tempo atrás. Ainda sem perceber bem o que se passava, andou, andou à volta de tudo aquilo… até que uma mulher já idosa veio a correr e gritou:
- Cathán! Oh Cathán, meu querido filho!!! Estás tão crescido! – e lançou-se nos braços dele.
- Mãe? – apesar de espantado com o tom da sua voz, Cathán não pôde evitar de a abraçar com a mesma força. Intrigado com o comentário da mãe, olhou para as próprias mãos… até perceber, totalmente surpreendido, que se tornara num adulto. Assim, sem mais nem menos.
- Passaram onze anos – continuou a mãe, e Cathán ouviu-a a fungar- Todos pensámos que te tinha acontecido alguma coisa, e é tão bom ver-te de novo, tão bom, tão bom…
Os gritos da mãe de Cathán alertaram os outros nómadas, que vieram também para o saudar ruidosamente. Mas Cathán só teve olhos para uma única figura, uma rapariga de lenço vermelho na cabeça que acabava de sair de uma das tendas e com uma voz tão doce, tão esperançosa e tão límpida que lhe despedaçou o coração:
- Cathán?
- Lilian! – Cathán despegou-se de todas as pessoas que estavam à sua volta e foi ter com a sua amiga, confidente de infância – Céus – acrescentou – Tu estás…
Lilian corou. De facto, uma rapariga muda bastante quando se considera a idade de cinco anos e a idade de dezasseis. Estava mais alta, como era óbvio, e tornara-se uma bela e exuberante jovem. O cabelo crescera-lhe até à cintura e os olhos âmbar, que Cathán nunca havia esquecido, mantiveram o seu brilho habitual. Ao vê-la, Cathán não conseguiu evitar sorrir… e, pela primeira vez desde que chegara ao acampamento, ficou feliz por estar de volta.
Desde então passaram-se vinte anos, e as coisas não podiam correr melhor. Cathán casou com Lilian, a sua deusa dos olhos cor de âmbar, e teve três saudáveis filhos. Com o tempo - porque só o tempo pode conferir tamanha sabedoria - percebeu que, não fosse a viagem que iniciara aos doze anos, não estaria tão certo da sua vida como agora estava. O inatingível que procurava era o interior do seu coração; a criatura dissolvera-lhe as dúvidas mandando-o para o único sítio onde podia ser feliz e ter consciência de que era feliz.
Quanto à floresta encantada, nunca mais se ouviu falar dela. Alguns acham que ficava numa dimensão mágica, outros que era apenas tudo um sonho na cabeça de Cathán… e outros, como Cathán, que nada dizem e, ao ouvir todas estas opiniões, apenas sorriem.



